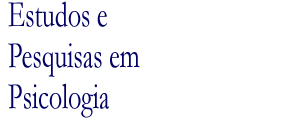
ARTIGO 3
O INDIVÍDUO FORA DA CIDADE: QUESTÕES À TRANSMISSÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
THE INDIVIDUAL OUT OF THE “POLIS”: QUESTIONS TO THE TRANSMISSION ON THE CONTEMPORARY SOCIETY
Ana Maria Szapiro*
RESUMO
Este artigo discute a questão do sujeito da contemporaneidade,
estabelecendo relações entre a emergência da ideologia
do liberalismo econômico e a construção de um sujeito
flexível e livre, mas afastado da experiência da cidade.
O indivíduo contemporâneo, recolhido à experiência
da sociabilidade familiar, introduz neste espaço de prática
social a demanda crescente por relações igualitárias,
cujos efeitos têm sido descritos sob o nome de crise da família.
Acreditando que é no encontro consigo mesmo que encontra a sua
identidade, o sujeito contemporâneo opera no registro de um pensamento
binário, no qual se recusa a experiência de alteridade, levando
à crença em um sujeito que seria causa de si mesmo.
PALAVRAS-CHAVE:
Civilidade; Liberdade; Contemporaneidade; Família; Transmissão.
Desde as últimas décadas do século XX, vivemos, de
modo particularmente acentuado, os fortes efeitos de grandes transformações
que se anunciaram já ao final do século XIX, com um questionamento
em torno dos valores da “civilidade”, enquanto experiência
social que modulou os comportamentos e a relação entre os
indivíduos nas sociedades ocidentais.
A civilidade, analisada por Norbert Elias (1994) em “O processo civilizatório”, opera segundo um modelo que constitui uma subjetividade a partir de uma lógica de fazer conter, ou, como entendeu o autor, conter as pulsões é fazer civilização. Portanto, este modelo opera sobre o registro de mecanismos de racionalidade, chamados a fazer existir a sociedade da modernidade. A esta lógica da contenção corresponderia, finalmente, uma representação de sujeitos que, como assinala Haroche (1998, p. 44), luta contra os “arroubos, os excessos, o que não é controlado, o que em si não é governado, mas também o que é ingovernável no outro...” O corpo, acrescenta Haroche (op. cit.), desta forma é visto como “um receptáculo fechado ameaçado do interior e do exterior”. E o que ameaçaria o corpo senão suas paixões, um não domínio de suas vontades, segundo a tese agostiniana?
Elias (1994) analisa, então, como se operou, entre o século XVI e o fim do século XVIII o que nós chamamos de “modernização” do Estado, ou seja, uma transformação global do Estado, das sociedades européias e dos indivíduos na sua “intimidade psicológica”. Na sua perspectiva, Elias afirma que há uma interdependência entre uma “psicogênese” do indivíduo, e uma “sociogênese” do Estado. Ou seja, o desenvolvimento dos valores do individualismo e as novas relações entre o emocional e o racional surgem e caminham em conjunto com as transformações do Estado. Nesta perspectiva, podemos pensar o sentido das mudanças em curso na contemporaneidade, do ponto de vista das transformações na subjetividade e emergência de novos mal-estares psíquicos e suas relações com o surgimento do liberalismo econômico.
Elias afirmou que a criação do Estado moderno, com a exigência de centralização do poder, transformou as relações entre governantes e governados, entre soberanos e sujeitos. Este processo implicou na interiorização de novos valores. As relações de força tão características do Estado absolutista foram substituídas por relações de sedução, onde os indivíduos tiveram que renunciar aos comportamentos reacionais, e passaram a valorizar e a exercitar novos comportamentos, onde, sobretudo a capacidade de calcular e de antecipar, a elaboração intelectual e racional deveriam dominar as reações emocionais. Toda esta transformação de modos de pensar, mobilizada pela transformação das estruturas de Estado, contribuiu para a construção de novas relações entre os indivíduos, e entre os indivíduos e o Estado moderno. O processo de civilização consistiria, então, para Elias, em uma lenta modificação das sensibilidades e dos comportamentos que atravessaria gerações (ELIAS, op. cit.).
Este processo, convém sublinhar, não se realizou de maneira racional, através de medidas tomadas conscientemente e com esta finalidade, continua Elias. Não foi, senão como conseqüência, um esforço de educação. A interiorização de normas implicou na construção de atitudes que demandaram um longo período de tempo para que pudessem se manifestar como novidade.
Assim, entre a sociedade da nobreza que se compunha de guerreiros e a doutrina rousseauniana da pitié, a doutrina da piedade e da comiseração, emergiu um sentimento de “compartilhamento” do sofrimento de todo e qualquer ser vivo, sentimento até então ausente, pois o sofrimento era um estado da natureza, assim como a miséria e a pobreza. Foi esta mudança de percepção que fez surgir todo um campo de saber assim denominado de “ciências humanas”. O saber moderno sobre os seres humanos se filia à esta des-naturalização do sofrimento humano, que deveria ser então combatido pela ciência e pela política. Se para o homem nobre, superior por natureza, o sofrimento e a miséria não constituíam um problema, na concepção dos estados democráticos modernos a idéia do homem sofrido e despossuído constitui por si só um incômodo que o Estado deve ter, como dever, enfrentar e eliminar.
É esta experiência, como projeto de “civilidade”, que, como forma de subjetividade, com suas referências constitutivas, está em esgotamento, acompanhando, deste modo, as novas concepções que conformam as bases ideológicas do liberalismo econômico dos nossos dias. Trata-se, portanto, de nos esforçarmos para compreender as transformações de nossas sociedades, tentando retirar daí as conseqüências destas transformações do ponto de vista das formas de dor e de sofrimento contemporâneos.
Dentre estas mudanças, quero ressaltar as questões que se abriram no espaço de sociabilidade familiar, marcadamente após 1960. Mais precisamente, quero indagar o sentido destas mudanças como aparecem no âmbito da família e do sujeito, com suas implicações na questão intergeracional e seus efeitos sobre a problemática da transmissão e da filiação.
FAMÍLIA, LIBERDADE E MAL-ESTAR
A família veio a constituir-se lentamente na modernidade, no lugar privilegiado de exercício das sociabilidades, como bem descreveu Ariès (1978). A inflexão sobre a família resultou e foi efeito também de um lento aprofundamento do distanciamento do indivíduo da cidade e do exercício da vida pública que o conduziu, neste processo, para os limites estritos da convivência privada e íntima tal qual nós conhecemos hoje.
A “familiarização” da sociedade deve ser vista, portanto, como parte deste longo processo que teve início na formação do Estado Moderno (ELIAS, op. cit.), o que implicou no afastamento dos indivíduos de espaços de convivência pública e sua reclusão ao âmbito de uma existência privada. A construção do Estado reconfigurou as trocas sociais do ponto de vista das relações entre os indivíduos, valorizando e/ou desvalorizando diferentes espaços de experiências e de trocas sociais.
Nesta perspectiva, Ortega (2002, p. 103) – de acordo com Sennett, Foucault e Arendt, dentre outros –, identifica na modernidade “um processo de crescente decomposição do espaço público, de privatização e des-politização”. A contemporaneidade representa, neste sentido, a radicalização destas tendências constitutivas da própria modernidade.
A inflexão na cultura da intimidade teve impulso maior com a entrada em cena, no século XX, de novos elementos na subjetividade, dos quais quero destacar o projeto de construção da mulher como “indivíduo”, cujos ideais de liberdade e de autonomia fizeram inaugurar novas relações no interior da “família moderna”. Estabeleceu-se em torno do novo campo dos estudos de gênero uma descrição, por vezes substancialista até, que insiste na existência de duas identidades na mulher: de um lado, sua identidade de “mulher” e, de outro, uma outra identidade ligada à experiência da “maternidade”.
As novas relações no interior da família foram produzidas por mudanças importantes nas concepções que regulam os modos de subjetivação. No modelo de contenção da civilidade, a família era o lugar de exercício de uma forma de poder, no qual do pater familias dependia o bom governo da família, considerada como lugar privilegiado de exercício de sociabilidade e de educação. Educar na família representava o início de um processo de sujeição do individual ao coletivo, do indivíduo à societas. Considerava-se que cabia à família a experiência de governar os indivíduos no sentido de, por sua vez, dotá-los de governabilidade. Esgotado este modelo, pelo questionamento contemporâneo à toda e qualquer idéia de sujeição do indivíduo a seja o quem for, o pater familias é também questionado em seu poder e em seu lugar. Introduziu-se, no interior da configuração familiar, a questão democrática sobre o exercício de relações que sejam igualitárias.
A teoria de Dumont (1983) sobre o individualismo como ideologia dominante nas sociedades modernas oferece importante contribuição no sentido de pensarmos sobre a concepção do indivíduo igualitário e libertário. Está, sem dúvida alguma, no projeto de consolidação desta perspectiva do indivíduo a ruptura com o modelo de civilidade sobre o qual veio se construindo a sociedade ocidental.
A maximização dos valores de liberdade e de igualdade – extensivos e consolidados também para as mulheres –, no interior dos relacionamentos familiares, produziu e vem produzindo mudanças importantes que problematizam o modo de funcionamento relacional e hierárquico entre os gêneros. Esta é, a meu ver, uma das causas do sentimento de “crise” da família, de “mal-estar” na família, tal como tem sido insistentemente colocado na atualidade.
A REPRODUÇÃO DO MESMO: DA QUESTÃO INTERGERACIONAL
As novas formas de conjugalidade, de maternidade e de paternidade presentes e reconhecidas na atualidade pós-movimentos feministas são, elas mesmas, produzidas e atravessadas pela acentuação do paradigma individualista. As novas modalidades de conjugalidade e de parentalidade traduzem, nos comportamentos e nas expectativas, a recusa ou a tentativa de apagamento do diferente e o anseio de reprodução do mesmo. Sobre este aspecto, as relações intergeracionais estão também postas em questão pela ideologia igualitarista, pois a idéia de reprodução do mesmo e as dificuldades com a diferença, presentes no imaginário da sociedade contemporânea, produzem, também, o mal-estar intergeracional. Como conseqüência, mudanças vêm se operando nas concepções de filiação e nos mecanismos de transmissão que fundam as relações no interior da “família contemporânea”.
A questão é que o mal-estar intergeracional não se dá tanto, na atualidade, pelo enfrentamento entre as gerações. Ou seja, não se observa, claramente, uma luta pelo poder que legitime a passagem de uma geração à outra, onde caberia a uma nova geração constituir-se a partir de uma identificação a uma geração anterior tomada como referência ou modelo, de um confronto posterior e de uma experiência de des-identificação a esta referência.
Na verdade, a família, enquanto espaço de exercício de sociabilidade, uma vez negada em sua dimensão de configuração hierárquica pela ideologia igualitária, faz com que a questão intergeracional esteja hoje colocada em termos radicalmente diferentes. Há, atualmente, uma ausência, um não-reconhecimento, há mesmo um estranhamento por parte dos mais jovens sobre um saber que uma geração poderia ter a oferecer ou transmitir como herança.
As gerações se distinguem pelo lugar que ocupam na transmissão e ocupam diferentes lugares porque estão assimetricamente colocadas do ponto de vista do poder. Como argumenta Arendt (1972), cabe aos mais velhos dar ao novo e, portanto, estranho ser que acaba de chegar ao mundo, os elementos que o instituirão na cultura. Assim, caberia aos mais velhos a tarefa da transmissão. Mas, tratando-se de relações igualitárias – nas quais não só na família, mas também na escola, as diferenças inter-geracionais parecem desaparecer, e pais e filhos, professores e alunos se tratam de igual para igual em nome da democratização destas relações –, que transmissão é possível? Onde, neste caso, se apóia, simbolicamente, a transmissão? É possível ainda falarmos de transmissão?
Quais seriam, então, os elementos de legitimação da geração precedente que deteria um saber sobre o mundo, que se colocaria o trabalho de transmissão seja do que for à geração que a sucede? Apenas a idéia culturalmente aceita de que há um saber transmissível como garantia da reprodução social! Aqui cabe perguntar: que saber, do ponto de vista dos valores da contemporaneidade, é ainda considerado como necessário, face ao pragmatismo da nova ideologia da sociedade como “mercado”?
A idéia de exercício da igualdade, a partir da qual as sociedades modernas aprofundaram a democracia, tem sido também produtora de um mal-estar na medida em que, na maximização da igualdade como valor maior, ao contrário do que parece, não há muito o que trocar. Novos processos identitários se produzem e implicam, assim, em mudanças na sociabilidade familiar.
Na problemática de gênero, a partir da introdução do valor da igualdade, as demandas traduzidas nas insígnias do feminismo promoveram deslocamentos importantes nos lugares parentais. A discussão dos anos 1960 sobre a autonomização da maternidade, como forma de escapar à dominação masculina, se insere no ideário de igualdade e de liberdade. Num estudo sobre a maternidade de “produção independente” no Brasil, no cenário das décadas de 1960 e 1970 (SZAPIRO, 1998), constatei nos discursos das entrevistadas que o desejo de ter um filho teve que percorrer um caminho complexo que convergisse com a reivindicação de autonomia e de liberdade para as mulheres. Isto resultou na proposição de ter filhos de “produção independente”, uma forma de ser mãe garantindo a independência da mulher face ao homem. Esta maternidade surgiu de uma problemática específica à discussão sobre a desigualdade entre homem e mulher. Esta discussão, muito presente na sociedade no final do século XX, resultou não só em abrir questões relativas ao vínculo contratual com a sociedade (direito ao trabalho e à remuneração igual, etc.), mas também refletiu-se num novo cotidiano das relações. Na verdade, a partir da reivindicação das mulheres sobre um novo estatuto de indivíduos, colocou-se, para o âmbito familiar, a necessidade de uma re-pactuação entre os gêneros que tem produzido novas concepções sobre família e mudanças nos sistemas de filiação.
A “crise” da família reflete, na verdade, um conjunto de questões cruciais que estão hoje colocadas para a sociedade, como uma espécie de “mal-estar” que o vocabulário médico ainda não conseguiu nomear muito bem, mas que tem procurado diagnosticar e tratar, na maioria das vezes, através da descoberta dos doentes de pânico, por exemplo... Cresce o número de jovens com comportamentos de adicção de todos os tipos e com sintomatologias novas, atribuindo-se à crise da família suas causas, como se esta crise pudesse ser delimitada ao âmbito no qual ela vem se manifestando.
Deslocamento social das mulheres, crescente autonomização do indivíduo, acentuada inflexão sobre a família do valor individualista e busca incessante de um estado de felicidade só alcançado através do encontro de um “mesmo”, aversão às diferenças nas relações, interpretadas como desigualdade e injustiça, todos estes aspectos têm conduzido à produção de novas configurações familiares e intergeracionais, que têm trazido mudanças importantes para a simbólica da filiação e da transmissão.
A subjetividade do “mesmo” coloca problemas no campo da filiação, nos laços sociais, na medida em que há uma recusa a pensar o “outro”, na radicalidade da sua diferença. Entretanto, e como observou a teoria freudiana, as referências constitutivas do sujeito se fazem exatamente ao preço de um exercício de oposição a um outro, o diferente que nos é imposto, a todos os humanos. A confrontação, o reconhecimento e a negociação com um outro são processos inerentes às constituições identitárias.
O OUTRO DA HISTÓRIA
Postulado por Freud (1976), o outro, em sua irredutibilidade de diferente, é fundamento do sujeito. É na alteridade que se inauguraria o percurso de um sujeito social. O princípio do prazer somente adquire sentido porque está limitado pela existência do mais-além...
Faço aqui referência a Bauman (2000), quando nomeia “liquid modernity” à versão contemporânea da modernidade. Esta é, segundo o autor, a face da chegada do capitalismo leve e flutuante, sem âncoras que o enraízem a qualquer porto ou terra, cuja subjetividade vem produzindo indivíduos marcados por uma espécie de desenraizamento e conseqüente enfraquecimento dos laços sociais. Bauman nos lembra Kundera que, no seu romance A Insustentável Leveza do Ser, descreveu o centro da tragédia do personagem do mundo contemporâneo. Leveza, liberdade, incerteza, apagamento do passado e não-projeção do futuro, e descontinuidade de identidades, seriam alguns dos aspectos de produção da “ liquid modernity”.
Nas sociedades contemporâneas, os projetos são individuais, são pontuais, particulares, não são coletivos. Filiação e transmissão, enquanto problemáticas centrais do ponto de vista da reprodução social, formam, entretanto, parte dos processos simbólicos de toda e qualquer sociedade. O indivíduo contemporâneo é o indivíduo das múltiplas filiações, o que nos autoriza a nos perguntarmos se este indivíduo não está, na verdade, imerso num “processo de desafiliação constante” de que nos fala Castel (1995), cuja conseqüência mais evidente é a produção social em massa de indivíduos panicados, deprimidos, adictos, por uma espécie de efeito de um estado de miséria não só econômica, mas também psíquica. Submetido a um processo de fragilização social e de perda de qualquer referência, inserção ou inscrição social, o sujeito circula no desamparo.
Sennett (1979) chamou atenção para o fato de que, nesta subjetividade, as experiências de sucesso ou de fracasso são sempre atribuídas às capacidades individuais, o que resulta na acentuação de uma cultura narcísica e no enfraquecimento dos laços sociais. Ocorre, então, o que ele denominou de “fetichização” do eu, ou seja, a relação com o outro é tanto melhor quanto mais puder eliminar todas as tensões da diferença, quanto mais puder ser quase que uma experiência auto-reveladora do ser de cada um. Advém desta idéia que permeia as relações a idéia do perfeito entendimento, marcadamente presente no imaginário das relações de conjugalidade e de família dos nossos dias. Mais uma vez, cabe ressaltar aqui a busca do mesmo, a recusa ao diferente.
Dufour, em Os Mistérios da Trindade (2000), examinando a questão dos laços sociais na contemporaneidade, afirma que não pode haver sociabilidade sem ausência. Ele sublinha, sobretudo no discurso da Psicanálise, a enunciação de um sujeito que só pode se constituir a partir de uma trindade. As referências simbólicas fundamentais, afirma Dufour, são o que nos permite aceder às distinções fundamentais do eu e do outro, do aqui e do lá, do antes e do depois, da presença e da ausência.
Evidencia-se, então, uma dimensão de ordem ética na transmissão na contemporaneidade. Considerando as mudanças que se vêm operando nas práticas sociais no acesso à função simbólica, Dufour observa que o traço característico e que distingue as sociedades humanas de todas as outras sociedades é o fato de que os homens se contam histórias. É a história que nos relança na problemática do outro. Examinando as formas de simbolização unária, binária e trinitária, Dufour aponta o caráter binário do pensamento contemporâneo. A problemática da transmissão implica dois aspectos particularmente relevantes para a análise do mal-estar contemporâneo. Um deles se refere ao fato de que todo discurso enunciado pelo sujeito é causado e também causa outro enunciado. Há sempre, na narrativa humana, observa Dufour, uma seqüência de três alocuções, o que quer dizer que a minha alocução faz sentido apenas na sua relação com um outro cuja alocução precedeu à minha e com a que me será posterior. Nesta perspectiva, a transmissão se refere à sucessão geracional, ela indica que a minha existência só toma sentido na sua relação com aqueles que me antecederam e com os que virão no tempo seguinte...
Os homens estão, desta forma, inexoravelmente ligados entre si pela história de seus grupos e de suas sociedades. Não há laço social sem uma ausência, que é condição de possibilidade do exercício da função simbólica, fornecendo ao sujeito um ponto de apoio, apoio que lhe permite enunciar seu próprio discurso diferenciando-se e constituindo-se na sua singularidade. Sem trindade não há simbolização. O ser humano não recebe nunca de si mesmo sua existência. O outro é esta anterioridade fundadora que permitirá ao sujeito fundar-se na sua interioridade.
Já o pensamento binário se caracteriza por ser a negação da dimensão de ausência e de perda que, na verdade, são a condição de constituição dos processos de representação no sujeito. A contemporaneidade, sublinha Dufour, ao operar no registro do pensamento binário, nega-se à realidade da morte e da sexualidade, o que implica na ruptura de um contrato narrativo. Um exemplo disto podemos encontrar nos efeitos na subjetividade dos mais recentes avanços no campo da biogenética. Estes avanços vêm recolocando a problemática da procriação em outros termos. Cada vez mais a procriação deixa de ser tratada como uma problemática simbólica, ficando reduzida à esperança de que se possa conquistar a reprodução sem sexualidade (SZAPIRO, 2002). As discussões sobre a clonagem falam desde um imaginário em que a questão do sujeito passa a adquirir um sentido absolutamente diverso daquele de um sujeito da intersubjetividade, nascido do encontro dos corpos de um homem e de uma mulher. Mas que lugar seria este fora da História, cabe-nos perguntar?
A este respeito vale lembrar a observação de Héritier (1985) quando afirma que, ainda que se considere os enormes progressos feitos pela ciência relativos às novas técnicas de procriação hoje disponíveis, e ainda que se considere que estas técnicas respondem a demandas absolutamente individuais, os efeitos desejados com ou sem estas técnicas permanecem o mesmo, ou seja, o desejo de uma descendência. Desejo encoberto, todavia, pelo discurso que pretende reduzir a procriação aos patamares puramente biológicos. Os efeitos de encobrimento deste desejo podem ser, entretanto, desastrosos, quando, ao não se reconhecê-lo, nega-se também a legitimidade da diferença geracional, a legitimidade da ancestralidade.
FAMÍLIA, PÓS-MODERNIDADE, LAÇOS SOCIAIS
A “crise” da modernidade é uma problemática inerente ao seu próprio paradigma. Assim, esta “crise” parece carregar, no seu desenvolvimento, os impasses constitutivos do modo de pensar moderno, onde a idéia de liberdade transformou-se num fim em si mesmo e não num sentido de ação da existência humana, como assinalou Arendt (1972). Na pós-modernidade, o primado da liberdade, fazendo par com a igualdade, potencializa-se e o sujeito parece agora esforçar-se por prescindir das referências simbólicas que, entretanto, são exatamente aquelas que o asseguram. Aqui se apresenta, então, o problema crucial. Quais seriam as referências constitutivas, os processos identitários do sujeito “causa de si mesmo”?
Deste ponto de vista, coloca-se a reflexão sobre as novas formas de mal-estar. Estas são lugar de inflexão de uma nova modalidade de subjetividade que se acredita livre de qualquer dívida com o outro. Na questão intergeracional, como pensar a transmissão, na medida em que o sujeito acredita poder se fazer livre das referências a seu passado, à sua história?
Retomo aqui o que anteriormente mencionei como esgotamento do modelo de contenção, como modelo que sustentou o projeto da construção da civilidade. Nas novas formas de subjetividade, encontramos um esgotamento dos modelos de racionalidade até agora construídos e cujas conseqüências, do ponto de vista dos laços sociais, são, pelo menos, preocupantes. Os laços sociais demandam recíprocas renúncias e o modelo psicológico da contenção se baseia na idéia do bem comum. Produzir “civilidade” remete à questão da gestão das diferenças e não à sua negação!
No seu ensaio “Cette nouvelle condition humaine: les désarrois de l’individu-sujet”, Dufour (2001) caracteriza a modernidade como um espaço coletivo onde o sujeito é definido por uma diversidade de “Outros”. O mundo tornou-se aberto e infinito, mutante também nas suas referências simbólicas. A modernidade é então, para ele, este espaço sempre mutante, podemos admitir, portanto, endemicamente em crise. Por isto, a crise da modernidade é inerente ao seu próprio estatuto.
Na pós-modernidade, este estatuto de mutação se potencializa, e o sujeito já não tem qualquer referência simbólica que o assegure, aqui se colocando o problema central das referências. Este problema diz respeito à questão pós-moderna, quando faz supor um sujeito autofundado, que seria causa de si mesmo.
Em “Construções do feminino: um estudo sobre a ‘produção independente’ dos anos sessenta” (SZAPIRO, 1998), examinei, como mencionei anteriormente, a maternidade de “produção independente”, compreendendo-a como resultado da inflexão do paradigma individualista no discurso feminista. Este paradigma, aprofundando o modelo de um indivíduo universal, sugere uma igualdade entre homens e mulheres, na dimensão de uma autonomia jurídica (SIMMEL, 1971) que sugere um apagamento da diferença sexual do ponto de vista simbólico e induz, assim, à reprodução do “mesmo”.
Impõe-se aqui uma interrogação: como, a partir do pensamento binário, pode ser ainda possível pensarmos a questão da transmissão e o lugar da filiação? Como articular a problemática da transmissão nas novas concepções de família contemporânea?
De fato, é um pensamento binário que preside as concepções das identidades dos laços sociais na contemporaneidade. Se na subjetividade pós-feminismo emerge um discurso que, negando a diferença sexual, parece querer conceber uma humanidade assexuada (FRAISSE, 2000), isto se faz ao preço da adesão ao modelo do indivíduo único no sentido de universal (SZAPIRO, 2002). O deslocamento das mulheres na direção de um novo lugar social se fez a partir do projeto da “mulher-indivíduo”, na verdade, a transposição para a mulher de uma representação deste indivíduo na sua representação universal. Ou seja, se não formos todos iguais, os diferentes são inferiores. Portanto, e nesta perspectiva, o indivíduo contemporâneo é o resultado do triunfo do modelo do indivíduo universal, para os homens e para as mulheres.
Se, nesta subjetividade, há uma recusa ao diferente, não é de se espantar que haja uma defesa cada vez maior pela idéia de que o reconhecimento da diferença sexual seria uma vez mais a imposição da dominação masculina, não se distinguindo, nestes novos discursos, o que é da ordem do real da diferença e o modo através do qual, em cada cultura, se constroem poderes sociais sobre esta diferença! O sujeito da pós-modernidade parece, assim, oscilar entre a ilusão de que tudo pode, recusando mesmo o real (e, neste aspecto, as tecno-ciências têm reforçado bastante este sentimento de onipotência), e o sentimento de total impotência diante do diferente. Mesmo a experiência do fracasso – que poderia ser mediada pela idéia de injunções sociais, que fazem parte do processo de conquistas individuais que almejam o sucesso – está hoje diretamente referida ao próprio sujeito, em sua condição imaginária de ser causa de si mesmo.
Os efeitos de subjetividade deste “sujeito de si mesmo” têm sido devastadores (EHREMBERG, 1998), se considerarmos o número crescente de pessoas mundialmente diagnosticadas com quadros depressivos, por exemplo.
Impõe-se, portanto, uma reflexão. Se o indivíduo moderno é livre e autônomo, supostamente liberado dos constrangimentos sociais, vivendo a experiência subjetiva de completa liberdade, a noção de responsabilidade desaparece. Do ponto de vista ético, em que se fundaria a ética do sujeito na contemporaneidade? Em que referenciais pode-se pautar o exercício ético, então?
Foucault (1985), nos seus últimos trabalhos sobre as tecnologias de si indaga sobre o cuidado de si, buscando compreender de que forma, a partir de um exercício sobre si mesmo, o sujeito se elabora, se transforma e alcança um certo modo de ser. Ele se dedicou, então, a investigar as relações entre ética e liberdade, sugerindo que a ética é a parte da liberdade refletida. Seria no exercício da prática de si como prática de liberdade (que para Foucault não se confunde com uma liberdade enquanto natureza primeira do homem, como uma espécie de essência última do homem com a qual ele finalmente se reconciliaria) que o sujeito construiria sua ética.
Ainda do ponto de vista ético, ser responsável implica em responder. Mas a quem e sobre o que devemos responder? Este é o ponto onde reside, a meu ver, um campo de tensão interna permanente, resultando nesta chamada crise da contemporaneidade. Impõe-se, então, uma interrogação crucial, qual seja: qual o ponto de partida do “sujeito de si mesmo”? Não estaria a exigência ética articulada ao reconhecimento de uma alteridade constitutiva do sujeito? Como reconhecer o outro quando se trata de ser um “sujeito de si mesmo”?
São questões que estão colocadas para a contemporaneidade, questões que nos cabe interrogar. Nas transformações em curso em nossas sociedades, vivemos a produção de uma subjetividade que é resultado do triunfo, sem precedentes, da liberdade como valor maior. Esta liberdade é, entretanto, líquida e fluida.
Não podemos assumir uma defesa nostálgica dos tempos passados, isto é claro. Não nos cabe qualquer dúvida sobre as conquistas democráticas nas nossas sociedades ocidentais, ainda que esta conquista varie enormemente em cada lugar e, nem mesmo, tenha resultado, no último século XX, no fim das injustiças sociais.
Porém, e esta é realmente mais uma questão a sublinhar, as sociedades contemporâneas democráticas têm apresentado, como tendência crescente, um elevado grau de apatia e conformismo. Os indivíduos se afastam da didade. Há um crescente alheamento e mesmo enfraquecimento dos laços sociais nestas sociedades. O indivíduo afastado da cidade é, certamente, o resultado de todo um processo de des-simbolização do sujeito, como aqui procurei examinar, um processo marcado pela inflexão sobre a idéia de um sujeito de “si mesmo” e pela recusa ao diferente como dimensão de alteridade.
Ao que parece, a aposta contemporânea conduziu-se por um equívoco importante. Na afirmação das existências livres e fluidas, o sujeito autônomo e indiferenciado que emerge sofre de uma alienação, qual seja, a alienação sobre sua impossibilidade de ser sujeito sem ter que se sujeitar à sociedade, que é a instância fundamental de reconhecimento de sua condição.
NOTAS
* Professora Adjunta do Instituto de Psicologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro/UFRJ; Professora do Programa de Pós-graduação
em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social/ EICOS do Instituto
de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. Doutora
em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica/PUC-Rio.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ARENDT, H. La crise de la culture. Paris: Gallimard,
1972.
ARIÈS, P. História social da criança e da
família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000.
CASTEL, R. Les métamorphoses de la question sociale:
une chronique du salariat. Paris: Fayard, 1995.
DUFOUR, Dany-Robert. Os mistérios da trindade.
Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2000.
______. Les désarrois de l’individu-sujet. Le Monde
Diplomatique, Paris, n. 569, p. 16-17, fev. 2001.
DUMONT, L. O individualismo: uma perspectiva antropológica
da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1983.
ELIAS, N. O processo civilizador: uma história
dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994, 2V.
FOUCAULT, M. História da sexualidade III. Rio
de Janeiro: Edições Graal, 1985.
FRAISSE, G. Les deux gouvernements: la famille et la
cité. Paris: Gallimard, 2000.
EHRENBERG, A. La fatigue d’être soi. Paris:
Odile Jacob, 1998.
FREUD, S. O mal-estar na civilização. Edição
Standard Brasileira das Obras Completas de Freud , v. XXI. Rio de Janeiro:
Imago, 1976.
HAROCHE, C. Da palavra ao gesto. São Paulo: Papirus,
1998.
HÉRITIER-AUGÉ, F. La cuisse de Jupiter: réflexions
sur les nouveaux modes de procréation. L’Homme,
Paris, n. 94, p. 5-22, avr.-juin. 1985.
ORTEGA, F. Genealogias da amizade. Rio de Janeiro: Iluminuras,
2002.
SENNET, R. Narcisismo y cultura moderna. Barcelona: Kairós,
1979.
SIMMEL, G. Freedom and the individual. In: LEVINE, D. (Org.). Georg
Simmel on individuality and social forms. Chicago: The University
of Chicago Press, 1971. p. 217-226.
SZAPIRO, A. M. Percursos do feminino: um estudo sobre
a “produção independente” dos anos sessenta.
Tese de Doutorado em Psicologia. Rio de Janeiro, Departamento de Psicologia,
Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, 1998.
SZAPIRO, A.M.; FÉRES-CARNEIRO, T. Construções do
feminino pós anos sessenta: o caso da maternidade como produção
independente. Psicologia Reflexão e Crítica,
Porto Alegre, v. 15, nº. 1, p. 179-188, 2002.
ABSTRACT
The aim of this article is to discuss the matter of the contemporary individual,
establishing a link between the emerging of the liberal economy ideology
and the construction of a flexible and free individual, who is far from
all the “Polis” experience. The contemporary individual, limited
to his own family’s sociability, introduces in it a growing demand
for egalitarian and free relations, which effects are called as family
crisis. Believing that he will find his identity in an encounter with
himself, the contemporary individual works in the frame of a binary thought,
believig in the individual as being the origin of himself.
KEYWORDS:
Civility; Freedom; Contemporary; Family; Transmission.
Recebido em: 17/03/2003
Aceito para publicação em: 29/07/2003
Endereço: aszapiro@vetor.com.br